Antes de Mulher-Maravilha estrear no primeiro semestre de 2017 muitas dúvidas pairavam no ar. Como será recebido um filme de uma heroína depois do fiasco que foi Batman vs Superman diante da crítica especializada? Como será recebido um filme de grande orçamento como este, dirigido por uma mulher?
Com a estreia, algumas dessas perguntas foram respondidas. De acordo com o Hollywood Reporter, o filme registrou a maior bilheteria de um filme de live-action dirigido por mulher de todos os tempos, fez a maior bilheteria de estreia de um filme dirigido por uma mulher na América do Norte e foi o filme de herói com melhor sustentação nas bilheterias também da América do Norte em 15 anos.

Todos esses marcos transmitem um recado tanto para o público quanto para a indústria: existe sim uma demanda por filmes protagonizados por mulheres fortes, por heroínas, e também dirigidos por mulheres. Filmes que quebrem um padrão de representação narrativo e estético e que proporcionem representatividade.
É notório que esse recado começa a ser entendido agora. Há algum tempo, nomes importantes da indústria audiovisual têm se dedicado a lançar produções de algum modo voltadas a discussão de gênero, cor ou sexualidade, como é o caso da Netflix. Apesar de ser uma empresa jovem, a plataforma já investiu em séries como Sense8, Las Chicas del Cable, Cara Gente Branca, Alias Grace e Jessica Jones.
Isso significa que as empresas que estão se dedicando a repensar protagonismos e enredos são generosas e benevolentes? Não totalmente, claro. São empresas e, como tais, precisam de lucros. O maior motivo desse movimento de mudança, sem dúvidas, é a percepção por parte de quem vende o produto cultural de que existem nichos que consomem entretenimento e que reprovam o que é retrógrado.
O feminismo, por exemplo, vem sido debatido com muito mais visibilidade. Logo, cria-se um nicho de pessoas que querem filmes, livros, jogos, músicas e séries protagonizados e feitos por mulheres. O entretenimento é político e econômico assim como absolutamente tudo . Nossas escolhas são políticas e, a fim de lucrar, o capital certamente vai nos oferecer possibilidades. Não é de hoje que o capitalismo se apropria de coisas e causas.
Mulher-Maravilha nem de longe é o filme mais feminista que poderíamos ter fazendo bilheterias estrondosas. Ainda faltam heroínas negras, lésbicas, transsexuais. Faltam filmes não americanos fazendo sucesso e chegando a mais gente. Faltam narrativas plurais, distribuição de filmes e de orçamentos mais igualitária e por aí vai. .
Estamos longe de um ideal de representatividade. Não devemos ser ingênuos,tem muito trabalho a ser feito sim. Mas o fato de um filme de heroína causar esse tipo de repercussão no cinema, ou de o novo Doctor Who ser uma mulher pela primeira vez e fazer com que homens, que são representados em qualquer coisa, achem que suas experiências com a série foram destruídas porque a presença de uma mulher é muito nociva a suas masculinidades frágeis, simboliza que, de alguma forma, a indústria cultural não está imune ao esforço das militâncias.
O termo da vez é a disputa de narrativa. Um caminho penoso, mesmo agora que não só as obras são questionadas, mas também o comportamento de quem as faz. 2017 foi o ano que levou Hollywood a se contorcer diante de suas contradições. Enquanto os três filmes de maior bilheteria foram realizados ou protagonizados por mulheres (Star Wars: Os Últimos Jedi, A Bela e a Fera e Mulher-Maravilha), muitos dos grandes nomes da indústria foram acusados de assédio ou abuso sexual e atores famosos foram retirados das produções em que estavam envolvidos.
Na televisão, Big Little Lies foi e continua sendo um exemplo das reviravoltas hollywoodianas. A trama, que trata de temas como violência doméstica e que ganhou diversos prêmios no Emmy e no Globo de Ouro, é fruto da produtora da atriz Reese Witherspoon; alguém que sabe como é ser mulher em meio a uma indústria misógina e que vem fazendo bom uso de histórias sobre mulheres que são ignoradas.

Exigir e celebrar tais avanços por parte da indústria não significa “aceitar esmolas do capital”. Significa que, infelizmente, estamos inseridos em uma realidade e é necessário mudá-la. Entendemos que esse é um processo lento e por vezes frustrante, mas precisamos de gente trabalhando nisso. Precisamos que as novas gerações de meninas tenham mais do que um filme da Mulher-Maravilha e uma série da Jessica Jones.
Precisamos que diretoras diversas ( em relação a cor, sexualidade ou classe social) possam se destacar, para que cada vez mais jovens consigam sonhar em serem diretoras. E se destacar não significa somente fazer uma bilheteria tão grande que torne impossível que não se fale delas. Significa também fazer com que tenham espaço na mídia para divulgarem seus trabalhos, sejam eles para milhões de pessoas ou para 10 mil.
São passos pequenos. Muita pedra ainda vai aparecer nesse caminho. Recentemente, por exemplo, ainda com Mulher-Maravilha colhendo seus frutos, foi lançado o filme dedicado ao homem que a criou. Quantas vezes filmes foram feitos para os criadores de Batman? Superman? Thor? Hulk?
Não é o bastante. O “pelo menos” não é suficiente. Não queremos que filmes grandiosos sobre mulheres sejam apenas dirigidos por uma mulher, enquanto a produção , roteiro e outras funções seguem sendo ocupadas por homens. Não queremos que um filme desse porte precise que um outro filme venha logo em seguida para que tenha, de qualquer jeito, o nome de um homem enaltecido e relacionado ao seu sucesso.
Nem de longe a apropriação que o capitalismo faz de lutas e militâncias vai mudar um problema que é sistêmico. A maioria das produções ainda é protagonizada por homens, héteros e brancos. No entanto, se ele se apropria significa que, no mínimo, os nichos que estão se formando possuem algum poder de reivindicação e mudança.
Não é segredo para ninguém que ir ao cinema está cada vez mais caro e que a esmagadora maioria das salas de exibição projetam apenas grandes produções. Em nosso site, sempre gostamos incentivar os leitores a procurarem por filmes menores, nacionais, latinos, dirigidos por mulheres ou negros. Mas sabemos que existe uma realidade onde, na hora de escolher qual ingresso valerá o dinheiro gasto, as pessoas se guiam pelo hype e pela curiosidade – gerados por fortes campanhas de marketing.
Ao mesmo tempo em que existem pessoas que costumam (e podem) ir ao cinema com mais frequência, existem as que vão eventualmente e dão preferência aos filmes do momento (seja por força de marketing, indicação ao Oscar, polêmicas ou engajamento do próprio público). Cinema diz muito respeito a coletividade. Se determinado filme é assunto, por que alguém deveria optar por ficar de fora desse assunto? Essas escolhas são completamente compreensíveis.
Dado nosso contexto, é irreal pensar que os espectadores são completamente livres para escolherem o filme indie “desconstruídão” que fala de representatividade e que estreia no cinema mais caro de São Paulo. Ainda que você esteja disposto a pagar o ingresso para ver determinado filme “mais alternativo”, pode ser que ele nem esteja em cartaz na sua cidade.
Sendo assim, por que não reconhecer a importância de filmes como Pantera Negra? A nova produção da Marvel que chegou aos cinemas no meio de fevereiro e serviu para ressuscitar os debates provocados por Mulher -Maravilha no ano passado. Dessa vez, carregando a pauta da representatividade negra.

O longa traz, pela primeira vez, um super-herói negro muito bem representado, dirigido por um homem negro, com elenco predominantemente negro, trilha sonora produzida pelo rapper Kendrick Lamar, figurinos e ambientação deslumbrantes que representam não o estereótipo de África que sempre toma as telas do cinema, aquela da miséria, mas uma África futurista, poderosa, detentora de muito conhecimento.
No Brasil, Pantera Negra já ocupa o lugar de terceiro filme de maior bilheteria da Marvel. Inclusive, alguns projetos foram lançados com o objetivo de levar crianças carentes ao cinema. Além disso, o rapper Emicida lançou uma música em homenagem ao filme.
Fenômeno pop? Pode ser. Mas por que não? Muita gente vai querer assistir Pantera Negra, afinal, trata-se de um grandioso filme da Marvel. Então por que não assimilar as demandas sociais do momento (desde que com responsabilidade, como foi o caso)? Por que não levar as discussões atuais para produções que alcançam maior número de pessoas?
No âmbito do streaming, Sense8 é outro bom exemplo para essa discussão. Logo com o fim da segunda temporada, a Netflix comunicou que cancelaria a série porque a audiência não fazia valer os custos da produção. Isso é completamente compreensível dado que, como falamos antes, trata-se de uma empresa, e por mais bacana que ela possa ser, ainda precisa fazer com que as contas fechem. Sense8 sempre foi claramente uma série com altos custos e ideias ambiciosas. Atendia a nichos específicos: mulheres, a comunidade lgbt e principalmente um público de países “em desenvolvimento”, como o Brasil.

A notícia do cancelamento causou um rebuliço nas redes sociais. Hashtags foram parar nos trend topics do Twitter, manifestações pelo mundo foram combinadas e abaixo assinados online foram criados. Tudo isso não porque existem milhares de fãs aficionados ( talvez um pouco), mas porque existem pessoas que se tornaram fãs justamente por, pela primeira vez, terem uma série tão diversa para assistir. Pessoas que não aceitaram que isso lhes fosse tirado. Vide os “ não pago minha Netflix para ficar sem meu sense8”. Algum tempo depois das manifestações pró Sense8, a Netflix comunicou que realizará um último episódio de 2 horas para, pelo menos, fechar a história e dar um fim aos personagens que fizeram a alegria de tanta gente.
Posto tudo isso, é provável que ainda haja muita queda de braço com a indústria cultural. Ava Duvernay, diretora de Uma Dobra no Tempo, o primeiro longa de uma diretora negra com orçamento superior a 100 milhões de dólares, fez a seguinte afirmação durante um debate em Los Angeles: “Sou uma anomalia. Ryan Coogler [diretor de Pantera Negra] é uma anomalia. Barry Jenkins [diretor de Moonlight] é uma anomalia. Dee Rees [diretora de Mudbond] é uma anomalia. Se você consegue nomear todos nós em duas mãos, não é mudança. […] Momentos como este só se sustentam se há mudança sistêmica. Estamos sentados em um sistema quebrado. Se não houver mudança sistêmica, seremos apenas a coisa brilhante ali no topo que faz as pessoas se sentirem bem.”
No fim de semana de estreia, o filme de Duvernay dividiu a liderança das bilheterias americanas com Pantera Negra. Essa foi a primeira vez que dois filmes dirigidos por negros ocuparam o topo da bilheteria do país. O importante é que, de anomalia em anomalia, a mudança se torne sistêmica de fato. Que cada uma dessas anomalias colabore para reestruturar as dinâmicas sociais e econômicas do cinema.
Ainda que agora seja por dinheiro, a mudança começa a acontecer porque existe um público organizado que vê nesses produtos grandiosos a oportunidade de vivenciar um entretenimento comprometido, ampliando e levando o diálogo para espaços onde antes ele não cabia. Espaços que possuem influência sobre o imaginário das pessoas e sobre suas ações, e que são extremamente necessários quando o assunto é disputa de narrativas.
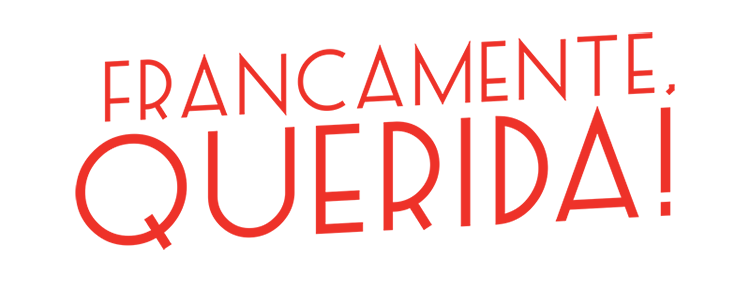
COMENTÁRIOS